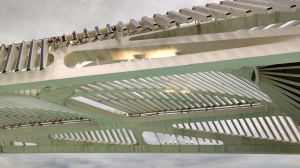Acerca das discussões suscitadas pelo texto “Xingamento”, de Gregorio Duvivier, publicado na Folha de S.Paulo, em 6 de janeiro, registro algumas reflexões.
A identidade do enunciador não desautoriza o conteúdo do seu enunciado. Em princípio, o que deve importar em um debate são os argumentos, a forma de argumentação e a agenda. Todavia, a posição do enunciador ou pode lhe conferir experiência ou conhecimento em relação a um tema ou pode lhe destituir de experiência ou conhecimento, isto é, pode ou lhe conferir ou lhe destituir de autoridade enunciativa. A existência de autoridade enunciativa fundada na experiência ou no conhecimento não impede à crítica a um enunciado. A ausência de conhecimento ou de experiência, por parte do enunciador, tampouco torna um enunciado necessariamente inválido. Na atividade de interpretação, o receptor deve tentar identificar, com base em informações do enunciado em foco ou de outros enunciados relacionados, a presença ou a ausência de conhecimento ou de experiência, bem como a agenda do enunciador. O que é enunciado? De que forma é enunciado? Quem enuncia? De onde enuncia? Para quem enuncia?
Gregorio Duvivier não é uma mulher (cisgênera ou transgênera). Por não ser uma mulher ele não está autorizado a discutir temas como identidade feminina, sexismo, dominação masculina ou feminismo? Um debate público, qualquer debate público, é, por natureza, um debate aberto a todos. Identidade feminina, sexismo, dominação masculina e feminismo são temas públicos de debate. Em um debate público, não é possível, na prática, impedir que determinados sujeitos participem, tampouco é possível obrigar alguém a participar. No entanto, ainda que fosse possível, toda tentativa de definir previamente os sujeitos capacitados a participar de um debate público consistiria em uma modalidade de interdição, de censura. Ademais, quem se dispõe a participar de um debate deve estar preparado para receber possíveis manifestações de discordância e críticas a seus enunciados, as quais podem ser emitidas por qualquer um dos demais participantes. (Evidentemente, ofensas não são manifestações legítimas de discordância e crítica.) Um homem não está desautorizado a discutir temas como identidade feminina, sexismo, dominação masculina ou feminismo pelo fato de ser homem (cisgênero ou transgênero). Toda tentativa prévia de desautorização com base na identidade do enunciador é interdição, censura. O que importa são os argumentos e a forma de argumentação do enunciado, os quais podem, na atividade de interpretação, ser relacionados à posição de enunciação, à experiência, ao conhecimento e à agenda do enunciador. É possível também, às vezes necessário, estabelecer relações entre enunciados, como entre enunciados de um mesmo enunciador.
O conteúdo do texto “Xingamento”, de Gregorio Duvivier, é sexista? Efetivamente, não. Contudo, estou convencido de que o fato de Duvivier ser um homem cisgênero, bem como branco, pertencente à classe alta e famoso, lhe confere uma posição de autoridade enunciativa privilegiada, uma autoridade que não possuem as mulheres (cisgêneras ou transgêneras) quando discorrem sobre as mesmas questões que ele discutiu nesse texto. Para que não haja desentendimentos: a constatação de que Duvivier, por ser um homem cisgênero, está em uma posição de autoridade enunciativa privilegiada não é uma crítica ao texto “Xingamento”, é a constatação de um fato. O primeiro problema não está no texto, portanto – o que não significa que o texto não possa ter problemas. O primeiro problema está nas nossas formas de recepção aos enunciados, que se alteram de acordo com as identidades do enunciador. O problema é que, se o enunciado de Duvivier tivesse sido proferido por uma mulher (cisgênera ou transgênera), muito provavelmente estaria sendo desautorizado com base na identidade feminina de sua enunciadora. Homens e mulheres ocupam espaços assimétricos de enunciação, possuem autoridades enunciativas desiguais. As vozes das mulheres são subalternas às vozes dos homens e as vozes das mulheres transgêneras são subalternas às vozes das mulheres cisgêneras. Um homem, ainda que não possua uma experiência identitária feminina – situação dos homens transgêneros, que foram socializados como mulheres –, ainda que não tenha adquirido nenhum conhecimento sobre identidade feminina, sexismo, dominação masculina e feminismo, é sempre mais autorizado do que uma mulher a discorrer acerca de temas como identidade feminina, sexismo, dominação masculina e feminismo. Três conclusões. (1) O fato de Duvivier ser um comediante famoso, escrevendo para um jornal de circulação nacional reputado como sério e confiável, certamente contribuiu para que seu enunciado recebesse mais atenção e aprovação do que recebem diariamente enunciados de conteúdo semelhante ou idêntico vocalizados por mulheres, feministas ou não-feministas. (2) O fato de Duvivier ser um homem certamente contribuiu para que seu enunciado não recebesse críticas que teria recebido, se tivesse sido enunciado por uma mulher, feminista ou não-feminista. (3) Apropriando o argumento do próprio texto “Xingamento”, podemos também concluir que Duvivier não foi vítima do mesmo número de ofensas que uma mulher teria recebido, caso fosse a enunciadora.
Considero importante que homens participem dos debates sobre identidade feminina, sexismo, dominação masculina e feminismo, denunciando e condenando todas as formas de discriminação, opressão e exclusão praticadas contra as mulheres cisgêneras e transgêneras. Todavia, um homem que se disponha a participar de debates feministas e a defender os direitos das mulheres deve estar consciente de que ele não é e jamais será um sujeito do feminismo. O sujeito do feminismo são as mulheres. Como todo sujeito de movimentos sociais, o sujeito do feminismo é problemático. Quem são as mulheres? O que é uma mulher? Quem é mulher? Não existe uma identidade feminina homogênea e estável, fundada na natureza biológica, transcultural e transtemporal. No entanto, conquanto o sujeito do feminismo possa ser problemático, é evidente que os homens não são seu sujeito. Portanto, um homem que participe de debates feministas e defenda os direitos das mulheres precisa adotar uma posição de abertura em relação ao outro, estando sempre disposto, antes de tudo, a ouvir as mulheres. Não está obrigado a concordar, pois ninguém está obrigado a concordar com nada, mas deve, ao menos, estar disposto a ouvir, sempre.
Retornemos a “Xingamento”.
Um problema do texto, embora pudesse não ser uma intenção do seu autor, é o fato de que pode conduzir a uma conclusão equivocada, segundo a qual o sexismo e a dominação masculina são apenas um problema de linguagem. É necessário criticar nossa linguagem, a qual, sexista, estrutura nossas formas de pensamento. Contudo, não é suficiente. O sexismo e a dominação masculina não são problemas a serem enfrentados tão-somente na esfera lingüística. Esse é o equívoco da correção política, a qual pressupõe que, ao transformarmos a linguagem, transformaremos, consequentemente, todo o mundo social. Ou melhor, um não-equívoco, porque o projeto da correção política é uma transformação alienante e conservadora da linguagem, que provoque a falsa impressão de que a transformação da linguagem promoveu uma efetiva transformação do mundo social.
Aproximemos “Xingamento” de outros enunciados. Gregório Duvivier é integrante da Porta dos Fundos, uma produtora de sucesso de filmes humorísticos de curta-metragem, criada em agosto de 2012. Pelo menos três filmes da Porta dos Fundos, Traveco da firma, Casal normal e Adão, foram condenados como transfóbicos por ativistas glbt’s, particularmente por ativistas de identidade transgênera. Dos três vídeos, vi o primeiro e o segundo. Conquanto considere que tenha realizado filmes interessantes, engraçados ou críticos, com o decorrer do tempo perdi interesse pela Porta dos Fundos, devido ao fato de continuar realizando obras que reproduzem representações discriminatórias e ofensivas a grupos minoritários, como homens e mulheres transgêneros – motivo pelo qual não vi o vídeo Adão. Meu desinteresse decorreu também de, salvo engano, nenhum dos membros da produtora jamais ter se pronunciado publicamente em relação às críticas. Os integrantes da Porta dos Fundos podem não reagir agressivamente às críticas a seus trabalhos, como Rafael Bastos e Danilo Gentili – uma postura que decerto merece ser reconhecida, neste tempos. Todavia, o silêncio também é uma forma de posicionamento. Ainda que não estivesse diretamente envolvido na produção de nenhum dos três filmes denunciados como transfóbicos, a circunstância de Duvivier ser membro da produtora seria suficiente para não isentá-lo de algum grau de responsabilidade. No entanto, não é caso. Ele e Ian SBF são os roteiristas do vídeo Traveco da firma. Entrevistado em uma reportagem do jornal O Dia – “Livro ‘Porta dos Fundos’ reúne 37 roteiros dos esquetes da web” –, ele assim explicou sua inspiração para a criação do filme e justificou sua ‘relevância’: “Toda vez que eu me deparo com um [sic] travesti se prostituindo, me pergunto se não é algum amigo passando dificuldades. Este vídeo está aí para lembrar que todos nós estamos muito próximos de rodar a bolsinha”.
.
 .
.